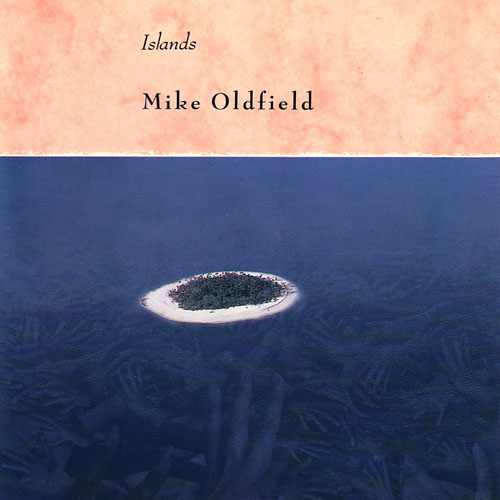O processo de conhecimento que travei com esta banda foi caricato e pouco usual. E talvez, dessa menira consiga realçar um dos grandes aspectos das séries de TV, reforçam o nosso conhecimento musical. Já perto do início da 1ª temporada Dexter Morgan é citado por um advogado que o informa de que tem uma boa herança para receber constante do património do seu progenitor. Isto porque Dexter Morgan foi adoptado ainda muito pequeno, pelo que desconhecia a sua origem biológica. Assim ficámos a saber que o pai biológico de Dexter era um apaixonado por música da era dourada do rock anos 60-70. E enquanto passam pela maravilhosa colecção de vinis deparam-se com um som pujante que imediatamente colocam no gira-discos. Um riff de guitarra poderoso, imediatamente reconhecível, muito rock, e bastante bluesy. Findo o episódio decidi procurar o refrão, dado que as letras eram muito simples, contudo, bastante icónicas. Pensava eu ser It's all right/Take it easy, quando na verdade se revelou por ser Slowride/Take it Easy. Fui assim introduzido a uma grande banda britânica de blues rock - os Foghat. Formados no início da década de 70, os Foghat desenvolveram os passos que os Led Zeppelin introduziram, a fusão entre o blues e o hard rock.
Melhor introdução não poderia ter sido, com um vislumbre do melhor álbum da banda, lançado em 1975, com nome deFool for the City. O álbum é curto, com apenas 7 faixas, mas com uma predominância brutal das guitarras que lançam os riffs mais apelativos e vibrantes do rock, com solos característicos do blues. Apesar de britânicos, os Foghat soam-nos a uns californianos, ou mesmo uns floridianos, pano de fundo ideal para a série.
A abertura alegre de Fool for the City, nem nos faz entender que é blues o paradigma da banda, mas a adrenalina do rock que se encontra patente e a juventude evidente na ideia cosmopolita e nas saídas nocturnas «Going to the city... I'm leaving all behind» exactamente aquilo que os Foghat passaram quando atingiram o sucesso que lhes é reconhecido e a que Fool for the City ajudou. Também a ideia da geração de Woodstock, de juventude revoltada contra as gigantescas populações metropolitanas. Outro marco destes tempos são as músicas mexidas de amor como My babe, com um ritmo bem compassado, uma voz sensual e cheia de testerona, bem ao estilo de You shook me, ou heartbreaker dos Zeppelin, ou mesmo Kentucky Woman dos Purple. Alegre e característica daqueles tempos que só em Portugal começamos a viver recentemente: «I'm goin to see my babe...she's so fine/ I love to love my baby, love to love all the time», que na era dos anos 60 e 70 era perfeitamente comum num país como os E.U.A. ou mesmo em Inglaterra. Slowride é obviamente o ponto forte do álbum, e bem maior do que se esperava, com uma fixa que se prolonga ao longo de 8 minutos de puro rock and roll desde o riff de guitarra, a voz potente e esganiçada, o groove do baixo, e a batida poderosa da bateria, que a meio se torn numa brutal de Jam. As letras são acessórios de preenchimento. Eu diria que elas servem apenas para dar suporte à voz, porque o que se quer é uma voz estridente com letras simples, bem ao estilo blues, sem nada de erudito.
O blues é tão importante para os Foghat que eles afogam na quarta faix com uma grande malha bluesy de Terraplane Hill, com letras que nostransportam directamente para Jim Morrison e o seus Doors, embora a voz de Dave Peverett seja superior, em nada se iguala ao simbolismo do Rei Lagarto «Mr. Highwayman please don't block the road/I cry please, please don't do me wrong/ You've been driving my terraplane». O álbum termina em oposto ao que começou com a melancólica take it or leave it. Mas aqui é que as letras dos Foghat soam a poemas de tasca ou de coluna de imprensa côr-de-rosa. Como instrumentalistas, o seu forte centra-se na música e pouco nas letras, e é isso que se destaca de Fool For the City, com um baixista brutal, Nick Jameson, que se encarregou de substituir Tony Stevens, e a grande malha de seis cordas Rod Price. Apenas Roger Earl permanece da formação original, um homólogo de Ian Paice dos Purple.
Melhor introdução não poderia ter sido, com um vislumbre do melhor álbum da banda, lançado em 1975, com nome deFool for the City. O álbum é curto, com apenas 7 faixas, mas com uma predominância brutal das guitarras que lançam os riffs mais apelativos e vibrantes do rock, com solos característicos do blues. Apesar de britânicos, os Foghat soam-nos a uns californianos, ou mesmo uns floridianos, pano de fundo ideal para a série.
A abertura alegre de Fool for the City, nem nos faz entender que é blues o paradigma da banda, mas a adrenalina do rock que se encontra patente e a juventude evidente na ideia cosmopolita e nas saídas nocturnas «Going to the city... I'm leaving all behind» exactamente aquilo que os Foghat passaram quando atingiram o sucesso que lhes é reconhecido e a que Fool for the City ajudou. Também a ideia da geração de Woodstock, de juventude revoltada contra as gigantescas populações metropolitanas. Outro marco destes tempos são as músicas mexidas de amor como My babe, com um ritmo bem compassado, uma voz sensual e cheia de testerona, bem ao estilo de You shook me, ou heartbreaker dos Zeppelin, ou mesmo Kentucky Woman dos Purple. Alegre e característica daqueles tempos que só em Portugal começamos a viver recentemente: «I'm goin to see my babe...she's so fine/ I love to love my baby, love to love all the time», que na era dos anos 60 e 70 era perfeitamente comum num país como os E.U.A. ou mesmo em Inglaterra. Slowride é obviamente o ponto forte do álbum, e bem maior do que se esperava, com uma fixa que se prolonga ao longo de 8 minutos de puro rock and roll desde o riff de guitarra, a voz potente e esganiçada, o groove do baixo, e a batida poderosa da bateria, que a meio se torn numa brutal de Jam. As letras são acessórios de preenchimento. Eu diria que elas servem apenas para dar suporte à voz, porque o que se quer é uma voz estridente com letras simples, bem ao estilo blues, sem nada de erudito.
O blues é tão importante para os Foghat que eles afogam na quarta faix com uma grande malha bluesy de Terraplane Hill, com letras que nostransportam directamente para Jim Morrison e o seus Doors, embora a voz de Dave Peverett seja superior, em nada se iguala ao simbolismo do Rei Lagarto «Mr. Highwayman please don't block the road/I cry please, please don't do me wrong/ You've been driving my terraplane». O álbum termina em oposto ao que começou com a melancólica take it or leave it. Mas aqui é que as letras dos Foghat soam a poemas de tasca ou de coluna de imprensa côr-de-rosa. Como instrumentalistas, o seu forte centra-se na música e pouco nas letras, e é isso que se destaca de Fool For the City, com um baixista brutal, Nick Jameson, que se encarregou de substituir Tony Stevens, e a grande malha de seis cordas Rod Price. Apenas Roger Earl permanece da formação original, um homólogo de Ian Paice dos Purple.